
Uruguai: Aumenta o número de pessoas privadas de liberdade que desejam seguir cursos universitários
26 de maio de 2019No Uruguai, o número de pessoas privadas de liberdade que desejam seguir uma carreira universitária aumenta a cada ano. Essa informação foi apresentada ao Semanario Búsqueda pelo Pró-Reitor do Comitê de Educação Setorial da UDELAR, Dr. Juan Cristina. Ele indicou que, em 2016, apenas quatro pessoas privadas de liberdade foram inscritas para cursos da Universidade da República (UDELAR), enquanto em 2017 esse número aumentou para 45, e em 2018 houve 100 pré-inscrições. Neste ano, o número de aspirantes a estudos universitários chegou a 200 pessoas.
Os cursos sociais e humanísticos são os preferidos por pessoas privadas de liberdade. Psicologia, Direito, Ciências Sociais e Ciências Econômicas estão entre as opções mais buscadas. A universidade realiza mais de 60 exames por semestre nas prisões.
As mulheres privadas de liberdade representam 15% do total de pessoas reclusas matriculadas na UDELAR – ao mesmo tempo em que representam 4% da população carcerária.
Entre as dificuldades e os desafios enfrentados pela população privada de liberdade, estão: um panorama heterogêneo entre as diferentes faculdades em relação à educação nas prisões (modalidade de ensino, diversidade de critérios, procedimentos administrativos, documentação exigida, etc.); bem como dificuldades na obtenção de autorização para saídas temporárias com a finalidade de estudos.
Com o objetivo de superar algumas dessas dificuldades, UDELAR e Instituto Nacional de Reabilitação do Ministério do Interior estão elaborando um protocolo de ação, que pretende padronizar critérios e conceder melhores condições de acesso à educação superior para a população privada de liberdade.
Além disso, nos primeiros dias do último mês de abril, foi assinado um acordo entre a UDELAR e o Centro Ceibal, pelo qual “foram doados 60 laptops para que sejam usados por estudantes universitários privados de liberdade em diferentes unidades de detenção“. A iniciativa proporcionará uma nova ferramenta de acessos aos materiais educacionais, para que estudantes privadas/os de liberdade avancem em seus estudos.
Com informações de UDELAR, BUSQUEDA e SUBRAYADO
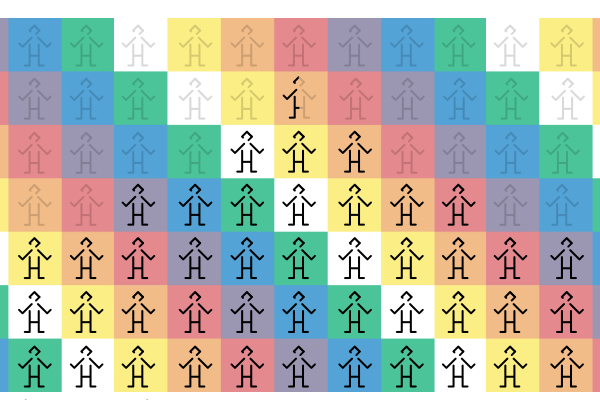
Argentina: Relatório revela a situação de crianças e adolescentes indígenas na educação
1 de maio de 2019O novo relatório publicado pelo Observatório Educacional da Universidade Nacional de Pedagogia (UNIPE), intitulado “Estudantes Indígenas nas Escolas Argentinas – Uma população invisível”, afirma que “quase um milhão de pessoas se reconhecem na Argentina como pertencentes ou descendentes a povos originários. Dessas pessoas, 250.000 são crianças ou adolescentes que frequentam a escola. No entanto, o sistema nacional de educação só identifica um terço de seus registros estatísticos como integrantes de comunidades indígenas”.
Afirma-se que o nível de analfabetismo nessas comunidades representa o dobro do índice médio para toda a população da Argentina. Segundo os últimos dados disponíveis, a porcentagem de pessoas analfabetas de 10 anos ou mais, em todo o país, é de 1,9 %. Esse índice alcança 3,7% – cerca de 30.000 pessoas – para as comunidades indígenas. Nota-se também que o nível de analfabetismo é maior entre mulheres pertencentes às comunidades indígenas (4,2%) que entre homens (3,2%) desse mesmo grupo.
O documento indica que 91% das crianças e adolescentes em idade escolar estão no sistema educacional, percentual muito semelhante ao da população não indígena de mesma idade (92%). Porém, cerca de 25.000 indígenas em idade escolar ainda estão sem estudar. No nível primário, a frequência de crianças indígenas é próxima à universalidade (98%), enquanto os valores diminuem 10 pontos percentuais nas idades correspondentes ao ensino médio (88%). Essa tendência também é observada entre a população não indígena. Em relação ao nível inicial, a taxa de frequência escolar de crianças de 4 e 5 anos é de 74%, enquanto para a população não indígena é de 81%.
O relatório chama a atenção para a “distância entre os valores de fontes de informação populacional e do sistema educacional”, destacando que é necessário rever a metodologia dos sistemas de informação para a inclusão adequada dos dados referentes à situação educacional de indígenas. “As diferenças de informação destacam a invisibilidade de uma parcela de nossa população, reproduzindo políticas homogeneizadoras que de modo algum garantem a inclusão de comunidades originárias no sistema educacional, bem como o exercício de seu direito a uma educação intercultural”, argumenta o documento.
Outro dado presente no relatório destaca que, de acordo com a Pesquisa Complementar de Povos Indígenas, 89% das pessoas indígenas com entre 5 e 14 anos que estão no sistema educacional não recebem aulas em seu idioma.
Leia o relatório completo aqui.

Uruguai: Secundaristas demandam a criação de banheiros inclusivos em suas escolas
22 de março de 2019Estudantes do Liceu nº 63 de Montevidéu, Uruguai, defendem a existência de banheiros “para todas as identidades, corporalidades e sexualidades” em seu centro educacional
(mais…)

Dia da Eliminação da Discriminação Racial: dialogamos com duas defensoras da igualdade racial e de gênero
21 de março de 2019Duas mulheres negras que são referência na luta por igualdade racial e de gênero na América Latina e no Caribe analisam a relação entre esses temas e a educação, bem como sua importância para a garantia de uma educação emancipadora (mais…)

Argentina: Comunidades educativas conseguem anular o fechamento de escolas públicas noturnas
6 de fevereiro de 2019Estudantes, trabalhadoras/es da educação e CADE comemoram o resultado de sua luta contra uma resolução do Ministério da Educação da cidade, que estabelecia o fechamento de escolas públicas
(mais…)
“A escola precisa tratar o estudante como sujeito social, histórico e de direitos humanos”
15 de novembro de 2016No contexto da IX Assembleia Regional da CLADE, que enfatizou os desafios para a realização de uma educação emancipadora e garante de direitos, entrevistamos Nilma Lino Gomes, pedagoga brasileira, reitora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e ex-ministra do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos no governo de Dilma Rousseff.
(mais…)





